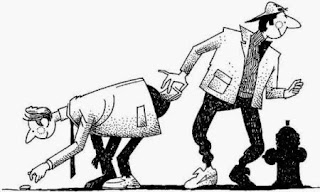
Não se sabe quem escreveu
“A Arte de Furtar”. Na busca de um autor, muitos quiseram atribuir a criação
dessa obra prima, além de vários outros, ao Padre Antônio Vieira (1608-1697)
ou ao Padre Manoel da Costa (1601- 1667), polêmica que rola nos
últimos quatro séculos. Não se sabe, pois, se foi o Antônio ou o Manoel. Será que importa? Trata-se de um anônimo, ponto
final.
No caso de A Arte de Furtar, é admirável a coragem
das denúncias que faz – o autor, que não era bobo, se escondeu no anonimato – e
das análises de cunho sociológico e cultural que levanta. É um livro admirável.
Vale a leitura.
Mas quero destacar que o
livro tem atualidade apesar de sua idade já secular. Quem sabe ajude a salvar do
lixo da história o ano que está acabando.
Como se sabe, fala-se
muito em impunidade no Brasil. Por conta da impunidade temos a continuidade e o
aprofundamento dos crimes cometidos. Embora isso seja a mais cristalina
verdade, não é toda a verdade.
Vejamos.
Diz o autor anônimo, já ao
final do livro: “Duas coisas há que facilitarão muito os ladrões a furtar: uma
é o que sobeja neles e a outra o que falta em nós”.
Essa frase é uma
preciosidade. Até porque faz com que olhemos para as duas faces de um fenômeno
social. De um lado quem furta e, de outro, quem é furtado.
E nos lembra que as duas
coisas não podem ser entendidas se não as pensarmos juntas. Ora, o que falta em
nós é o que move ladrões de galinha e políticos e empresários corruptos a
cometer crimes novos e mais ousados.
Voltando ao anônimo:
“sobeja neles cobiça para nos roubarem e falta em nós justiça para os
emendarmos”.
Em busca de uma saída, o
anônimo desenvolve uma parábola na qual duas senhoras – Dona Justiça e Dona Cobiça
– se agridem numa briga no Terreiro do Paço. Ocorre que Dona Cobiça acerta um
soco nos olhos da Dona Justiça e lhe arranca um olho, o que fez com que
imaginasse que a tivesse matado. Temendo por sua sorte, correu ao Paço em busca
de ajuda. Foi então advertida de que ali seria punida, sendo homicida e ladra. Dirigiu-se
então ao Corpo Santo, mas ali a avisaram que se arriscava a ser enviada ao
Brasil, onde poderia cair nas unhas de holandeses. Acabou indo à Rua Nova,
pensando em se esconder nas lojas dos mercadores e, em seguida, na Rua dos
Ourives – nos dois casos não a atenderam.
Tentou abrigar-se então em
algum mosteiro, mas todas as portas lhe foram fechadas. Padres e freiras tinham
outras preocupações. No castelo, o mesmo. Ela então – na expressão deliciosa da
época – “se deu em ladra” e passou a roubar a olhos vistos, até mesmo o soldo
dos soldados e as riquezas da Fazenda de el-rei. Temendo ser enforcada,
passou-se para Castela, sem passaporte, onde assolou os espanhóis com tributos
tais que esses, para se repararem, dirigiram-se ao Novo Mundo, onde, “só na
ilha de Cuba (...) mataram mais de doze milhões de índios para se encher de ouro”.
Esquartejaram crianças, queimaram vivos caciques e reis, degolaram imperadores –
e assim devoraram serras de prata e montes de ouro, que mandavam à Espanha para
que pudesse fazer a guerra a toda a Europa.
Em meio ao caos reinante, resolveu-se
chamar a Dona Justiça para reparar os estragos, mas esta, sendo agora caolha –
um de seus olhos, lembro, fora arrancado pelo murro da Cobiça – nada podia
fazer. Colocaram nela então um olho de prata, mas o arranjo ficou deformado. Os
homens aguardaram então que Deus condenasse a Cobiça ao inferno.
E, candidamente, diz o
Anônimo: “Não sei se me tenho declarado”. E, para não haver dúvidas, arremata: “Quero
dizer que a cobiça é a mãe de todos os ladrões e que a justiça se lhe acanha
quando não é direita”.
Então, concluamos nós, a
quatro séculos de distância: que se cortem as unhas aos ladrões e que sejam
punidos na sua medida, do mais pequeno ao mais alto arregimentador de
propinas.
Sem Dona Justiça caolha, é
claro.
E que 2017 nos seja leve.






